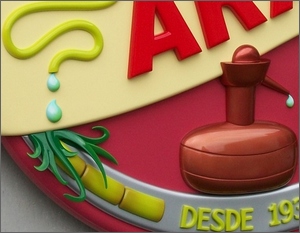Felicidade pré-fabricada do Facebook, Twitter e outras redes sociais
O SCRIPT DA VIDA
Os sorrisos que compartilhamos nas redes virtuais parecem confirmar que somos felizes. Mas tais imagens associam nossa existência a algo que nós, na realidade, não temos. É a contínua produção do desejo: nela, ser feliz é conseguir aquilo o que desejamos, mas, quando conseguimos, já desejamos outra coisa. O prazer é o suicídio do desejo.
NUNCA FOMOS TÃO FELIZES
Por Fabiana Moraes *
Nos últimos anos, nos tornamos especialistas em narrar publicamente nossa existência através de imagens: os pés na areia da praia, a farra com a família, a festa de sábado à noite, o almoço com as amigas, a cerveja gelada à beira da piscina.
Compartilhadas rede, elas confirmam: somos felizes. Os sorrisos vistos naquelas fotos comprovam a vitória sobre a tristeza, são imagens que informam nossa incrível aproximação com um mundo onde não há espaço para os aborrecimentos da vida.
O nosso cotidiano é quase totalmente povoado por pequenas delícias, amor, afeto, diversão. É algo que finalmente está acontecendo conosco, e não com aquela gente feliz que costumávamos ver do outro lado da tela da TV ou do computador.
É preciso dizer que as fotos que publicamos não atuam sozinhas no álbum público da plenitude: elas recebem o endosso dos outros, que sublinham e aplaudem nossa felicidade ao clicar um “curti”, ao comentar festivamente um “lindoooooo”, “maravilhosa!” ou “arrasou!”
Educados, fazemos o mesmo. Nossa vida vai assim se ressignificando: se antes eram apenas as visitas, sentadas no sofá da sala, que olhavam e comentavam as fotos de aniversários e casamentos, agora somos consumidos por muitos, por gente que não necessariamente faz parte do nosso cotidiano, mas fica sabendo, de longe, do nosso sucesso.
Mostramos a eles que estamos sempre ótimos, adaptados a um momento no qual “estar bem” não é apenas um caminho a tentar se seguir, e sim um imperativo social – e o que esse imperativo produz ao mesclar-se a um aplicativo diz muito sobre nós.
Aqui, a vida festiva que compartilhamos com conhecidos (ou nem tanto) é analisada por filósofos, jornalistas, sociólogos, blogueiros.
Longe de ver com moralismo a maneira como nos expomos em rede, eles refletem sobre aquilo o que estamos querendo dizer com nossas fotos – e o que realmente se sobressai através das imagens de uma existência que parece perfeita.
Polyana Inácio, da Pós-Graduação em Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/Minas), estudou aquela que é atualmente uma das redes sociais mais utilizadas na disseminação da felicidade calcada na imagem, o Instagram.
Ela diz que o exagero nas auto-representações de felicidade está relacionado à maneira como escolhemos ser vistos em sociedade – algo anterior a qualquer rede social. “Desde sempre, ao nos apresentarmos publicamente, tendemos a criar uma estratégia sobre como queremos ser vistos”, ressalta.
“No caso do Instagram acontece a mesma coisa. Nele temos como ‘amigos’ pessoas íntimas e outras nem tanto. De modo geral, em função desta visibilidade, queremos ser bem vistos, queridos e aceitos. É nesta hora que as pessoas podem se distrair quanto ao que estão fazendo, ao invés de pensar: ‘o que realmente quero comunicar sobre mim?’”.
Neste sentido, o Instagram e outras redes não são em si os produtores de uma felicidade artificial, mas servem, antes de mais nada, como grandes condutores, são vitrines pensadas para exibir o (super) humano.
A raiz talvez se encontre na obrigação de aparentar energia e sucesso. Isto é uma exigência social presente em vários segmentos, inclusive na Internet.
“Atualmente parece estranho envelhecer, se entristecer ou esperar”, diz Polyana Inácio. A busca pela validação do outro, natural e saudável (o reconhecimento dos amigos, o respeito do chefe no trabalho), termina ganhando formas diferentes quando essa validação ecoa na rede.
“Será que às vezes não cometemos exageros por agir como se somente ali fosse possível ter audiência, ver e ser visto?”, pergunta a pesquisadora.
A plenitude contemporânea é um dos objetos de estudo do sociólogo e professor da Universidade de Brasília (UnB) Pedro Demo, que, em Dialética da Felicidade: Olhar Sociológico Pós-Moderno (Editora Vozes), divide esse estado de espírito entre o vertical e o horizontal.
Neste, a felicidade tende a ser superficial, “Como quando nos contentamos apenas com momentos felizes. É, de certa forma, a alegria do bobo alegre”; o outro, vertical, é a alegria do “bom combate”, que, em geral, implica renúncia.
“Difícil é ser feliz de modo duradouro sem renúncia, segundo consta em muitas propostas espirituais”.
O caso é que as imagens, o “compartilhe o momento”, são manifestações materializadas dessa alegria vapt-vupt, que precisa ser constantemente renovada (fotografada) para que nos sintamos realmente fazendo parte da Grande Aldeia da Diversão.
“A felicidade como condição mais permanente e profunda é outra coisa. Aparentar felicidade é, muitas vezes, a única felicidade que resta, quando não se tem um projeto – sempre reconstruído – de felicidade mais duradoura”, raciocina Demo.
Essa necessidade de ao menos aparentar um estilo de vida – e um estado de espírito – que são superestimados no ambiente social também tem seus laços na chuva de representações que consumimos diariamente via outdoors, celular, TV e, claro, internet.
Agora, no entanto, não precisamos de “atravessadores” para surgirmos na maioria destes suportes: somos produtores e disseminadores de nossas próprias imagens, nossa vida vai direto para o YouTube e Facebook, o que nos dá mais controle e poder sobre quem somos – ou queremos ser.
Aí é que mora o nó: se podemos nos representar, se não precisamos de intermediários para mostrar quem nós somos, porque insistimos em fazê-lo tendo como base uma lógica baseada na irrealidade (pele sempre perfeita, corpo emagrecido, dentes mais do que brancos)?
A mídia gira em torno de simulacros que mobilizam as pessoas, em especial seu inconsciente – não enchem a alma, mas podem encher os olhos. Imagens de felicidade refletem naturalmente seu contexto cultural e civilizatório.
No ocidente, a felicidade está mais vinculada à riqueza, poder, efeito-demonstração, ostentação, bens materiais. Em outros recantos, pode haver uma acentuação mais clara de outros valores mais duradouros e profundos, como renúncia, saber disciplinar os desejos, conviver produtivamente com limites, tirar proveito das imperfeições.
“Por isso tanto gente nas redes sociais se contenta em ser ‘seguidor’ – não tendo luz própria, serve a dos outros”, dispara Demo
Mesclando a filosofia de Baruch Spinoza a análises sobre a comunicação e o consumo atuais, o professor Luís Peres, da ESPM de São Paulo, observa a existência de uma exuberante indústria cultural da felicidade, produtora de imagens que nos mostram como poderíamos ser felizes se estivéssemos consumindo isto ou aquilo.
“São imagens que associam nossa existência a algo que nós não temos. É a contínua produção do desejo: nela, ser feliz é conseguir aquilo o que desejamos, mas, quando conseguimos, já desejamos outra coisa. O prazer é o suicídio do desejo”.
A vontade de felicidade que superpovoa o ambiente virtual é algo intrínseco ao humano: ela dá sentido à vida, à vida virtuosa, à vida que vale a pena ser vivida.
Essa busca é um processo que existe desde que o homem é homem. Sentimos a necessidade que o outro legitime essa felicidade e, na internet, essa legitimação pode estar no botão ‘curti’.
“A existência não tem sentido nela mesma, não nascemos felizes. Temos que buscar essa felicidade – e ela não está nas coisas”, diz.
Para a professora Ângela Prysthon, da Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGCOM/UFPE), as redes sociais, desde o Orkut, servem como uma espécie de álbum de figurinhas, um mosaico de referências.
“Nesse sentido, as ‘imagens de felicidade’ têm uma relação direta com as referências, com os gostos que formam as pessoas. Fica evidente, de certo modo, a ligação entre alegria e consumo, já que muitas das referências são elementos da indústria cultura, da cultura de consumo”.
Então, “imagens de felicidade” podem ser fotos de viagens, de refeições, de shows, de baladas etc. É a própria descrição daquilo o que vemos no Instagram, por exemplo.
Para a pesquisadora, as redes sociais também sistematizam e formatam os modos de narrar nossas vidas.
“Nos adequamos (conscientemente ou não) à timeline do Facebook, aos 140 caracteres do Twitter, aos filtros do Instagram, aos boards e categorias do Pinterest, aos templates do Tumblr, quase que naturalizando esses formatos pré-fabricados. Assim, tem-se também, de alguma maneira, uma certa pré-determinação do que seria ‘felicidade’.
As imagens de felicidade seriam pré-programadas nesses scripts: sorrisos na balada, autorretratos itinerantes, evocando passados imaginários e nostalgias daquilo que nunca existiu via filtros fotográficos, epigramas humorísticos, coleções de imagens alheias”.
Prysthon observa que a discussão remete às análises de três autores dedicados a pensar a contemporaneidade: Richard Sennett (O Declínio do Homem Público); Gilles Lipovestky (A Era do Vazio) e Christopher Lasch (A Cultura do Narcisismo), todos centrais nos estudos de comunicação nos anos 80.
“Vemos assim como é possível pensar a sociedade contemporânea a partir de ideias de mais de 30 anos – ainda que reformulando muitas de suas hipóteses”, conclui.
* No JC Online