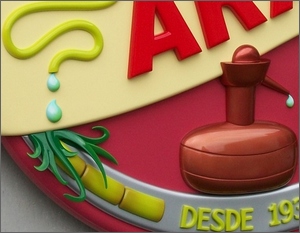A tomada de poder pelo mercado com golpe de Estado financeiro
A ‘DEMOCRACIA’ DA ELITE FINANCEIRA
Você já percebeu que Miriam Leitão, Carlos Alberto Sardenberg e Arnaldo Jabor — essa gente, assim como outros comentaristas da velha mídia — são incansáveis na sua função diária de destilar o veneno neoliberal contra a atual e bem-sucedida política econômica de inclusão social. Portanto, nunca baixe a guarda e nem duvide jamais: há, sim, interesses execráveis e perversos nas pontas de suas línguas afiadas. E não são, portanto, os que garantem o seu bem-estar e o da coletividade. Pelo contrário…
EUROPA: A GRANDE REGRESSÃO
O que chamamos “estado de bem-estar”, os mercados já não toleram e querem demolir. Esta é a missão estratégica dos tecnocratas que chegam ao centro do governo graças a uma nova forma de tomada de poder: o golpe de Estado financeiro.
por Ignacio Ramonet *
Agora está claro: não existe, no interior da União Europeia, nenhuma vontade política de enfrentar os mercados e resolver a crise.
Até há pouco, atribuiu-se a lamentável atuação dos dirigentes europeus à sua desmedida incompetência. Mas esta explicação, ainda que correta, não basta, sobretudo depois dos recentes “golpes de Estado financeiros” que puseram fim, na Grécia e na Itália, a certa concepção de democracia.
É óbvio que não se trata só de mediocridade e incompetência, mas de cumplicidade ativa com os mercados.
A que chamamos “mercados”? A este conjunto de bancos de investimento, companhias de seguros, fundos de pensões e fundos especulativos (hedge funds) que compram e vendem essencialmente quatro tipos de ativos: moedas, ações, papéis da dívida dos Estados e produtos derivados dos três primeiros.
Para ter ideia da sua força colossal, basta comparar duas cifras: a cada ano, as empresas de bens e serviços criam, em todo o mundo, uma riqueza estimada (se medida pelo PIB) em cerca de 45 bilhões de euros. Ao mesmo tempo, em escala planetária, os “mercados” movem capitais avaliados em 3,45 trilhões de euros. Ou seja, setenta e cinco vezes o que produz a economia.
Consequência: nenhuma economia nacional, por mais poderosa que seja (a da Itália é a oitava do mundo), pode resistir aos assaltos dos mercados quando estes decidem atacá-la de forma coordenada.
É o que fazem há mais de um ano contra os países europeus depreciativamente qualificados como PIIGS [porcos, em inglês]: Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha [Spain].
O pior é que, ao contrário do que se poderia pensar, estes “mercados” não são unicamente forças exóticas, vindas de algum horizonte distante para agredir as gentis economias locais.
Não, na sua maioria, os “atacantes” são os próprios bancos europeus (estes mesmos que foram salvos pelos Estados, com o dinheiro do contribuinte, na crise de 2008).
Para dizer de outra maneira, não são apenas fundos norte-americanos, chineses, japoneses ou árabes os que estão a atacar maciçamente alguns países da zona euro.
Trata-se essencialmente de uma agressão de dentro, dirigida pelos próprios bancos europeus, as companhias europeias de seguros, os fundos especulativos europeus, os fundos europeus de pensões, as instituições financeiras europeias que administram as poupanças dos europeus.
São eles que possuem a parte principal da dívida dos Estados.
Na Espanha, por exemplo, 45% da dívida pública é controlada pelos próprios bancos espanhóis. Dos 55% restantes, dois terços são detidos por instituições financeiras do resto da União Europeia. Significa que 77% da dívida espanhola foi adquirida por europeus e que apenas os 23% restantes se encontram em mãos de instituições estrangeiras à UE.
Assim, para defender em teoria os interesses dos seus clientes, especulam e obrigam os Estados a elevar as taxas de juros que pagam, a ponto de levar vários países (Irlanda, Portugal, Grécia) à beira da falência. Com o consequente castigo para os cidadãos, que devem suportar medidas “de austeridade” e brutais ajustamentos decididos pelos governos europeus para “acalmar” os mercados-abutres – ou seja, os seus próprios bancos.
Estas instituições, além de tudo, conseguem facilmente dinheiro do Banco Central Europeu a 1,25% de juros, e emprestam-no a países como Espanha ou Itália a… 6,5%!
Daí a importância escandalosa das três grandes agências de avaliação de riscos (Fitch Ratings, Moody’s e Standard & Poor’s): da nota que atribuem a um país depende o nível dos juros que este pagará para obter um crédito dos mercados. Quanto mais baixa a nota, mais altos os juros.
Para compreender, a nota mais alta é AAA, que no final de novembro só possuíam no mundo poucos países: Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, Dinamarca, França, Finlândia, Holanda, Reino Unido, Suécia e Suíça. A nota dos Estados Unidos foi rebaixada, em agosto, para AA+. A da Espanha é atualmente AA, idêntica às do Japão e China.
Estas agências não apenas costumam equivocar-se – em particular na sua opinião sobre as hipotecas subprime [de segunda linha] norte-americanas, que deram origem à crise atual – mas desempenham, num contexto como o de hoje, um papel perverso e execrável.
Como é óbvio que todos os planos “de austeridade” de cortes de direitos e ataque aos serviços públicos irão traduzir-se em queda do índice de crescimento, as agências baseiam-se nisso para rebaixar a nota do país.
Consequência: este deverá reservar mais dinheiro para o pagamento da sua dívida; dinheiro que precisará obter cortando ainda mais o orçamento; provocando a queda inevitável da atividade econômica e das próprias perspectivas de crescimento.
E então, de novo, as agências rebaixarão a sua nota.
Este ciclo infernal de “economia de guerra” explica porque a situação da Grécia se foi degradando tão drasticamente, à medida que o seu governo multiplicava os cortes e impunha uma férrea “austeridade”.
De nada serviu o sacrifício dos cidadãos. A dívida da Grécia baixou ao nível dos “títulos lixo”.
Deste modo, os mercados obtiveram o que queriam: que os seus próprios representantes chegassem ao poder, sem precisar submeter-se a eleições.
Tanto Lucas Papademos, primeiro-ministro da Grécia, quanto Mario Monti, presidente do Conselho de Ministros da Itália, são banqueiros. Os dois, de uma maneira ou de outra, trabalharam para o banco norte-americano Goldman Sachs, especializado em colocar os seus homens nos postos de poder. Ambos são, também, membros da Comissão Trilateral.
Nos Estados Unidos, por exemplo, o Goldman Sachs já conseguiu fazer de Robert Rubin secretário do Tesouro do presidente Clinton; e de Henry Paulson, o ocupante do mesmo posto no gabinete de George W. Bush. O novo presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, foi também vice-presidente do Goldman Sachs para a Europa, entre 2002 e 2005.
Estes tecnocratas planejam impor — custe o que custar socialmente e nos marcos de uma “democracia limitada” — as medidas que os mercados exigem (mais privatizações, mais cortes, mais sacrifícios) e que alguns dirigentes políticos não se atreveram a tomar, por temerem a impopularidade que tudo isso provoca.
A União Europeia é o último território no mundo em que a brutalidade do capitalismo é atenuada por políticas de proteção social.
Isso que chamamos “estado de bem-estar”, os mercados já não toleram e querem demolir. Esta é a missão estratégica dos tecnocratas que chegam ao centro do governo graças a uma nova forma de tomada de poder: o golpe de Estado financeiro. Apresentado, é claro, como compatível com a democracia…
É pouco provável que os tecnocratas desta “era pós-política” consigam resolver a crise. Se a sua solução fosse técnica, já teria sido adotada.
O que se passará quando os cidadãos europeus constatarem que os seus sacrifícios são em vão e que a recessão se prolongará?
Que níveis de violência os protestos alcançarão?
Como se manterá a ordem na economia, nas mentes e nas ruas?
Haverá uma tripla aliança entre o poder econômico, o midiático e o militar?
As democracias europeias irão converter-se em “democracias autoritárias”?
– – –
* Ignacio Ramonet é Jornalista. Foi diretor do Le Monde Diplomatique entre 1990 e 2008.