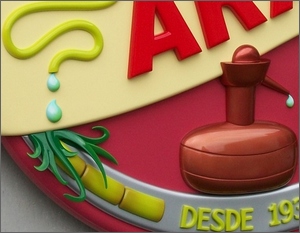Linguagem bélica transforma futebol em guerra, num campo de batalha
AFINAL, NÃO ERA PARA SER SÓ ESPORTE?
Essa guerra da Copa, como todas as guerras, é só uma velha ficção: por ela inventa-se um inimigo para unir uma nação em nome de muito pouco ou quase nada. Ficaremos felizes e guardaremos para sempre as lembranças da Copa se tudo continuar dando tão certo. Mas ainda assim será só futebol, e só terá graça se for só futebol. Quando vira guerra vira outras coisas: drama, trauma, pânico, lágrimas e tristeza.
O TIME É DE GUERREIROS. MAS QUEM É O INIMIGO?
Por Matheus Pichonelli *
Não foi porque o Paulinho saiu. Nem porque o Fernandinho entrou. Ou porque o Felipão mexeu mal. Porque o Jô não é jogador para Copa. Porque o Neymar foi anulado. Porque o meio-campo evaporou. Ou porque faltou raça, vontade, aplicação.
Os motivos que levaram a seleção brasileira a entrar em pânico na partida contra o Chile passaram longe das explicações mágicas para referendar ou desmontar análises táticas ao fim do duelo.
O pânico, que travou pernas e mentes, tomou a proporção que tomou durante 120 minutos do jogo porque todo mundo, da comissão técnica aos torcedores, pareceu se esquecer de que aquela era uma partida de futebol, e não uma guerra.
Uma guerra construída desde a preleção, com a evocação da honra, da nação, do orgulho, do amor, da justiça divina e das lágrimas. O arsenal levou a equipe a entrar em campo com o peso de um país rendido pelo inimigo.
MAS QUEM ERA O INIMIGO?
A depender das reações ao fim da partida, eram todos: o rival que entrou na maldade, o juiz que “errou” no gol do Hulk, a desconfiança de quem apostou no fiasco, a imprensa que martelou todos os erros de uma equipe que não pode, não deve nem ouse pensar em perder o Mundial da redenção, o único capaz de expurgar nossas chagas expostas desde a Copa de 50.
A construção do inimigo incorporou nas linhas de campo mais que uma linguagem: incorporou na equipe o espírito de uma sociedade violenta em sua base. “Vencer”, afinal, é imperativo aos filhos chamados pelos pais de “campões” antes mesmo de sair da fralda.
A eles é dito o tempo todo: sejam homens, sejam dignos, passem no vestibular, atropelem os concorrentes, subam no emprego, queimem os rivais, aliem-se aos poderosos, mantenham a guarda, protejam os seus, espalhem alarmes e cercas elétricas, tenham cuidado com o vizinho, com o prefeito, com o padre, com todo mundo que tentar tomar seu dinheiro, sua honra, seu passado, e condenem à morte, pelas leis ou pela pistolagem, todos os que morderem seus calcanhares, a começar pelos vagabundos que vagam pelas ruas.
Assim vivemos em estado permanente de guerra, declarada ou não, que pode ser vencida ou não, mas que não permite o sabor de uma trégua. E morremos um pouco a cada dia, sufocados, pressionados, equilibrando pratos, somatizando chutes na boca e lambendo botas para não chegar em casa com a vergonha de dizer: “fracassei”.
Esse espírito do funcionário-padrão que se acredita guerreiro vitorioso está espalhado por todos os setores da equipe de Luiz Felipe Scolari. Dá para ver no olho dos jogadores perfilados para cantar o hino à capela: as lágrimas, anteriores à partida nem sequer iniciada, parecem o transbordamento não de uma alegria, mas de um ódio contra tudo e contra todos que mal cabe no corpo.
ÓDIO DE QUÊ?
Da projeção de uma ideia de que a seleção não é a manifestação, mas a própria identidade de nação.
Antes e depois dos jogos, a confirmação de que o nacionalismo é de fato o último reduto dos idiotas parece claro quando reproduzimos um discurso segundo o qual “aqui é Brasil, somos os donos dessa Copa e ninguém vai vir aqui pisar em cima da nossa bandeira sem passar em cima dos nossos cadáveres”.
Por isso vemos jogadores como David Luiz, ótimo zagueiro da seleção, correr para a torcida com os olhos cheios de lágrimas e o antebraço quase esfolado de tanto bater com a palma da mão para mostrar que ali corria sangue. Porque nada menos do que a salvaguarda dessa ideia esperamos dos guerreiros, digo, jogadores da seleção.
Sobrou para os chilenos, adversários dignos e vizinhos respeitáveis que durante 120 minutos foram nomeados inimigos maiores da pátria e sofreram a descortesia de ouvir as vaias dos anfitriões durante a execução de seu hino.
Naquele momento estava claro que o Brasil havia levado a sério demais a ideia de que nós (nós: eu, você, a seleção, o vizinho, o dono da padaria e até o dono do jornal que você detesta) somos um time de guerreiros, que não desiste nunca, que não se dobra jamais e blábláblá…
Por isso foi insuportável assistir à partida. Porque vimos em campo soldados, e não jogadores de futebol, os artistas capazes de arrancar a graça em um jogo calculado por meio do drible, do improviso, da surpresa, da leveza e da amplitude. É quando o futebol deixa de ser uma concessão pra sorrir para se tornar uma batalha, triste como a mais ordinária das rotinas, em que só vence quem mata mais e morre menos.
Ao fim do jogo, ainda confusos entre alívio, alegria e certa tristeza, assistimos à exaustão a entrevista do goleiro Júlio César, herói da partida com dois pênaltis defendidos.
E SE FOSSE UMA GUERRA?
Ele seria laureado com medalhas de honra, palmas e aplausos, sem perceber que na próxima sexta-feira será empurrado novamente para o front, de novo na linha de frente, e que condecoração alguma o salvará da saraivada de tiros em caso de fracasso.
Por isso, ao ouvi-lo falar de orgulho, honra e reconquista, sentimos apenas pena. Pena pelos quatro anos em que viveu como um apátrida por ter falhado nos gols contra a Holanda, na já distante Copa de 2010.
Aquelas lágrimas não pareciam ser de alegria, como afirmou, mas de um ódio por tudo o que ouviu e pensou em ouvir em caso de novo fracasso: de todos os que colocariam às suas costas o projeto do que poderíamos ter sido e não fomos.
Sentimos pena como sintimos pena dos soldados, condecorados ou não, vitoriosos ou não, que colocam a valentia em teste e perdem sua vida por uma causa: a honra, o orgulho, a bandeira, a glória, a nação. É em nome desses termos, tão abstratos como o vento, que os homens vão à luta não para espalhar a liberdade, como prometeram a eles, mas para morrer.
Assim começam e terminam todas as guerras, concluímos ao fim da entrevista do goleiro.
Nenhum general motiva o soldado a morrer falando em barbárie, em terror, em destruição. Convence o sujeito a morrer falando sobre valores: a maldita honra, o maldito orgulho, a maldita bandeira, a maldita glória e a maldita nação (e a maldita evocação a Deus, claro, pai de todos sem distinção, mas que escolhe quem mata e quem morre conforme a amplitude da reza).
Se em uma guerra não há vencedores, o Brasil não venceu a partida contra o Chile – nem contra Camarões, nem contra a Croácia e nem contra o México na Copa das Confederações –, quando descobrimos um novo grito de guerra ao cantar o hino à capela.
ENTÃO PERDEMOS TODOS?
Sim, perdemos no instante em que transformamos a partida em uma questão de honra e absorvemos no campo a linguagem de uma sociedade já suficientemente violenta e injusta e, em vez de alegrias e amplitudes, falamos em honra, orgulho, bandeira, glória e nação.
Em nome de tudo isso matamos Júlio César por mais de quatro anos, e só agora damos a ele o direito de falar com a cabeça erguida diante da câmera – um direito negado a Barbosa, que não teve outra chance em 54.
Ao fim da entrevista, poderíamos telefonar ao goleiro da seleção e dizer: “amigo, só Deus sabe o quanto vibramos ao ver suas defesas contra o Chile. Mas pode ficar tranquilo: você não nos devia nada. Você, ao que tudo leva a crer, é um grande sujeito, com ou sem milagres redentores em campo, e não merece ser sacrificado em nome de ninguém, já que as falhas em 2010 nem foram tão falhas assim”.
Essa guerra da Copa, como todas as guerras, é só uma velha ficção: por ela inventa-se um inimigo para unir uma nação em nome de muito pouco ou quase nada.
Ficaremos felizes e guardaremos para sempre as lembranças da Copa se tudo der certo. Mas ainda assim será só futebol, e só terá graça se for só futebol. Quando vira guerra vira outra coisa. Vira trauma, vira pânico, vira tristeza.
Mesmo quando levamos a taça, somos apenas a expressão daquela gente honesta, boa e comovida da música de Belchior. Aquela gente que caminha para a morte pensando em vencer no campo e na vida.
* Na Carta Capital